O Rei e o Alvoroço: As raras aparições públicas de Roberto Carlos e o fascínio que ele exerce
Por Leandro Coutinho
Os corredores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acostumados à circulação formal de advogados e magistrados, viveram um dia atípico, ontem, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. A razão tinha nome e sobrenome:
Roberto Carlos Braga. A simples presença de Roberto Carlos, que compareceu ao local para depor como testemunha em um processo de família, foi o suficiente para instaurar um alvoroço que exigiu o isolamento de alas do prédio e mobilizou uma legião de fãs e servidores, todos ansiosos por um vislumbre do Rei Roberto Carlos.
O deslocamento até o prédio, aliás, envolveu um trajeto de cerca de 11 km entre sua residência, na Urca, e o centro do Rio, percurso que costuma levar cerca de 26 minutos sem trânsito.
O episódio, no entanto, está longe de ser uma anomalia.
Ele é, na verdade, a mais recente prova de um fenômeno que se solidificou ao longo de décadas:
Roberto, aos 84 anos, é uma das poucas personalidades brasileiras cuja vida pública se mede por aparições raras e controladas, onde o trivial se transforma em evento.
Ir ao tribunal, visitar um parente ou eIr ao tribunal, visitar um parente ou exercer o direito ao voto são, para o Rei, operações que beiram a complexidade de um show, marcadas por um fascínio popular que o tempo parece apenas intensificar.
O episódio com Silvio Santos
Em 1997, durante o Programa Em Nome do Amor, apresentado por Silvio Santos no SBT e lembrado até hoje, o apresentador perguntou ao Rei Roberto Carlos se ele conhecia o Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Roberto respondeu que ainda não. Silvio insistiu, perguntando se ele costumava ir a shoppings. Na ocasião, muitos se perguntaram por que o Rei não frequentava lugares públicos como a maioria das pessoas.
O que pouca gente sabe é que nos bastidores dos estúdios da Anhanguera, em São Paulo, onde o SBT funciona, o clima também foi de grande alvoroço. Funcionários, técnicos e pessoas presentes na gravação tentavam, discretamente, se aproximar ou apenas vê-lo passar.
Agora, cerca de 30 anos depois, suas raras aparições continuam mostrando exatamente o porquê:
a simples presença de Roberto transforma qualquer ambiente em um acontecimento.
O ritual do voto e o silêncio nas urnas
Durante anos, a cena se repetiu como um ritual.
A cada eleição, fotógrafos e admiradores se postavam em frente ao Círculo Militar, na Urca, para registrar a chegada do eleitor mais famoso da seção.
A última vez que essa romaria cívica foi amplamente documentada, com fotos e o característico alvoroço, foi em 26 de outubro de 2014, durante o segundo turno das eleições.
Naquele dia, o Rei Roberto Carlos não apenas votou, mas, cercado por seguranças, foi simpático com os presentes e chegou a abraçar um sósia que o aguardava.
Depois daquela data, não houve registros públicos de sua ida às urnas em 2016 e 2018. Em 2022, já com o voto facultativo para maiores de 70 anos, a ausência do Rei foi percebida de maneira curiosa: o destaque acabou sendo o sósia, que confundiu fãs que ainda esperavam vê-lo.
Saídas discretas e movimentos planejados
Durante o período em que o mundo viveu restrições e cuidados especiais, Roberto Carlos manteve uma rotina extremamente reservada, algo que já fazia parte de sua natureza.
Fontes da época confirmam que uma de suas primeiras saídas registradas ocorreu Ir ao tribunal, visitar um parente ou exercer o direito ao voto são, para o Rei, operações que beiram a complexidade de um show, marcadas por um fascínio popular que o tempo parece apenas intensificar.
O que pouca gente sabe é que nos bastidores dos estúdios da Anhanguera, em São Paulo, onde o SBT funciona, o clima também foi de grande alvoroço. Funcionários, técnicos e pessoas presentes na gravação tentavam, discretamente, se aproximar ou apenas vê-lo passar.
Agora, cerca de 30 anos depois, suas raras aparições continuam mostrando exatamente o porquê: a simples presença de Roberto transforma qualquer ambiente em um acontecimento.
O ritual do voto e o silêncio nas urnas
Durante anos, a cena se repetiu como um ritual. A cada eleição, fotógrafos e admiradores se postavam em frente ao Círculo Militar, na Urca, para registrar a chegada do eleitor mais famoso da seção. A última vez que essa romaria cívica foi amplamente documentada, com fotos e o característico alvoroço, foi em 26 de outubro de 2014, durante o segundo turno das eleições. Naquele dia, o Rei Roberto Carlos não apenas votou, mas, cercado por seguranças, foi simpático com os presentes e chegou a abraçar um sósia que o aguardava.
Depois daquela data, não houve registros públicos de sua ida às urnas em 2016 e 2018. Em 2022, já com o voto facultativo para maiores de 70 anos, a ausência do Rei foi percebida de maneira curiosa: o destaque acabou sendo o sósia, que confundiu fãs que ainda esperavam vê-lo.
Saídas discretas e movimentos planejados
Durante o período em que o mundo viveu restrições e cuidados especiais, Roberto Carlos manteve uma rotina extremamente reservada, algo que já fazia parte de sua natureza. Fontes da época confirmam que uma de suas primeiras saídas registradas ocorreu Ir ao tribunal, visitar um parente ou exercer o direito ao voto são, para o Rei, operações que beiram a complexidade de um show, marcadas por um fascínio popular que o tempo parece apenas intensificar.
atureza. Fontes da época confirmam que uma de suas primeiras saídas registradas ocorreu apenas em agosto de 2021, para o casamento de seu filho, Dudu Braga.
Antes disso, porém, houve uma aparição que revela o planejamento meticuloso do Rei para evitar tumultos: em 1º de março de 2021, Roberto dirigiu até um posto de vacinação drive-thru na Zona Sul do Rio para receber sua dose. Tudo ocorreu sem que ele saísse do carro, de maneira rápida e silenciosa. Foi uma aparição pública sem público, algo raro para quem, involuntariamente, move multidões.
Um mestre da reclusão
O fascínio em torno de Roberto Carlos é indissociável de sua aura de mistério. Em 2010, o jornal americano The Mercury News já o definia como um “mestre recluso”, observando que sua aversão a aparições públicas era tão conhecida que qualquer saída já se tornava notícia.
Essa reclusão é fruto de uma vida de superexposição e de desafios pessoais, entre eles o TOC, que sempre exigiu do Rei uma disciplina própria e um cuidado com ambientes e rotinas.
O resultado é um status quase mitológico.
Roberto Carlos é um evento.
Suas aparições, seja em um tribunal, em uma emissora de TV, em um local de votação ou em um restaurante, em inúmeros países do mundo, funcionam como um termômetro da devoção nacional e internacional que ele inspira.
Cada aparição pública mostra que no Brasil ainda existe um Rei cujo simples aceno fora dos palcos é capaz de parar o trânsito e ocupar manchetes.
.jfif)






.jfif)













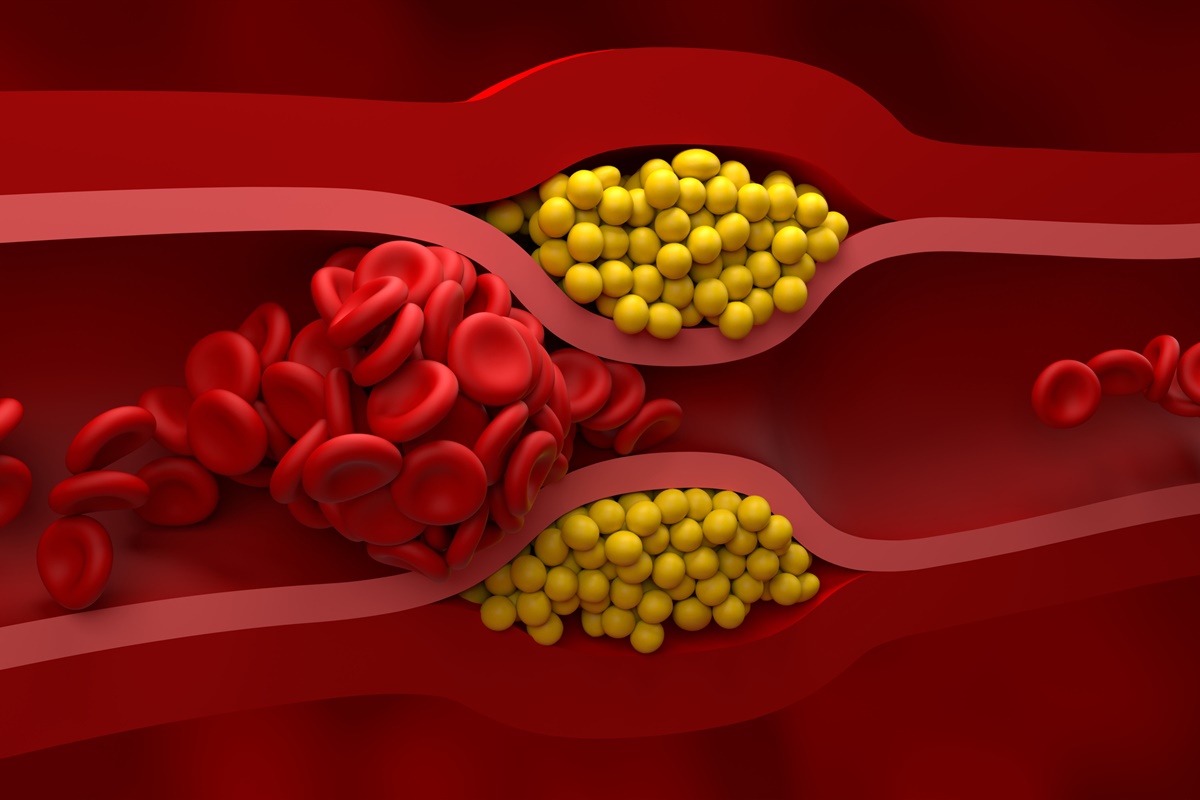


.jfif)



.jfif)



.jfif)
